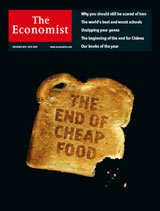All others must bring data.
(Em Deus nós acreditamos.
Todo o resto deve apresentar dados.)
Edwards Deming
Chegou a primavera e, com ela, as chuvas. O relógio do clima tropical é preciso. Passado o equinócio de setembro, aos poucos se encerra o ciclo sazonal de queimadas e incêndios no Brasil. Como em outros temas, as queimadas têm sido objeto de uma preocupação seletiva da mídia. Nesta estação seca, as redações não se incendiaram com denúncias e acusações sobre queimadas e incêndios no Brasil. Nem aqui, nem no exterior. Poucos tocaram no assunto. Comportamento muito diferente do de 2020. A razão seria a redução do fogo no Pantanal e na Amazônia durante a estação seca de 2021. Contra fatos…
De junho a setembro deste ano, a redução de incêndios e queimadas foi de 13% no Brasil. O país registrou 124.995 focos de fogo, valor idêntico ao de 2019 (125.821). Em mais de 30 anos, entre 1988 e 2021, a média foi de 135.000 no período seco. Em 2020, foram 143.000 focos, valor acima da média. Variações interanuais podem ser grandes: já se registrou um mínimo de 57.000 queimadas no ano 2000 e um máximo de 265.000 em 2007.
Os dados são do monitoramento das queimadas por satélite, realizado pela Nasa. Há décadas, a ocorrência de qualquer fogo de alguma magnitude é detectada várias vezes por dia, por diversos satélites, em sua maioria norte-americanos. O sistema atual de referência internacional para monitorar queimadas e incêndios usa os dados do satélite Aqua M-T, da Nasa. A detecção dos pontos de calor ou fogos ativos pelo satélite é disponibilizada, em tempo quase real, num site conhecido como Firms (Fire Information for Resource Management System). E, no Brasil, esses dados são oferecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe) no Programa Queimadas.
No Pantanal, a redução foi de 69% em relação a 2020. Situação parecida na Amazônia: uma redução de 26%, contrastando com o aumento de 2020. Quem divulgou os dados sobre a redução das queimadas e incêndios nesses dois biomas? Ou tentou entender as razões? Quem comparou a dinâmica do fogo nos seis biomas brasileiros e alhures? Cadê os interessados?
Como na parlenda Cadê o toucinho que estava aqui?, é a água que apaga o fogo. O peso climático sobre a ocorrência maior ou menor, adiantada ou atrasada, das queimadas é enorme. São flutuações em escala continental. Na América do Sul, a redução dos fogos detectados neste período de 2021 foi até superior à registrada no Brasil: menos 18%. Segundo dados do Inpe, tratados pela Embrapa Territorial, do total registrado na América do Sul (200.194), mais da metade ocorreu no Brasil (62%), seguido por Bolívia, Argentina (ambos com 11%) e Paraguai (9%). São valores relacionados à dimensão territorial dos países. Com números ponderados pela área, o Paraguai é o campeão de queimadas: 44 a cada 1.000 quilômetros quadrados; seguido por Bolívia, com 21; Brasil, com 15; e Argentina, com oito queimadas a cada 1.000 quilômetros quadrados.
O Ano da Graça de 2021 passará à história como um exemplo de redução nesse fenômeno indesejado? Alguém explicará as causas dessa variação? Provavelmente, não. O Poder Executivo, acusado pelo aumento das queimadas na Amazônia ou no Pantanal em 2020, será responsabilizado pela redução do fenômeno? Dificilmente. Nem no Dia da Amazônia, em setembro, as catilinárias e as diatribes sobre as ações humanas nesse bioma não saudaram a redução no número das queimadas.
Em agosto passado, artigo na Revista Oeste destacou quanto a distinção entre queimadas e incêndios é necessária para a adoção de políticas públicas e privadas adequadas à redução do uso do fogo no mundo rural. A solução é ampliar o emprego de novas tecnologias agropecuárias para substituir o uso do fogo em diversos sistemas de produção. A queimada é uma tecnologia agrícola. Não se trata de prevenir queimadas, como no caso dos incêndios, mas de substitui-las por tecnologias modernas.
Agricultores não queimam por malvadeza. Essa prática do neolítico foi herdada essencialmente dos índios (coivara). Povoadores europeus a adotaram, aqui e na América Latina. Ela é tradicionalíssima na África, onde também é utilizada como técnica de caça. É sobretudo o produtor não tecnicizado, descapitalizado e marginalizado do mercado quem emprega o fogo — ocasionalmente — para renovar pastagens, combater carrapatos, eliminar resíduos vegetais acumulados, limpar áreas de pousio etc. E eles são minoria: menos de 2%. Do total registrado de queimadas, mais de 15% ocorrem em terras indígenas, áreas urbanas e periurbanas, beira de estradas etc. Fora das fazendas. São 6 milhões de produtores e cerca de 110.000 queimadas rurais no Brasil. Mais de 98% dos produtores não empregam o fogo em seus sistemas de produção. Não se trata de uma prática generalizada. A única prática generalizada é acusar toda a agropecuária brasileira. Há como reduzir o uso do fogo a menos de 1% dos produtores e tentar eliminá-lo por completo. Alternativas técnicas à prática das queimadas existem.
Já com os incêndios é diferente. Esse fogo indesejável ocorre fora de hora e lugar. Destrói patrimônio público e privado. Reduz a biodiversidade. Mata pessoas. Sua prevenção é fundamental. Uma vez iniciados, eles são difíceis de controlar. Muitas fazendas, usinas de cana-de-açúcar e grupos de reflorestamento mantêm brigadas anti-incêndios treinadas e equipadas para atuar, com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Mesmo assim, neste ano, particularmente na região nordeste do Estado de São Paulo, ocorreram incêndios em canaviais provocados criminosamente ou por atos irresponsáveis. Na época da colheita, a palha seca da cana-de-açúcar é altamente comburente e queima como papel.
É paradoxal ver queimarem tantos canaviais como neste ano em São Paulo. Essa cultura foi a responsável pela maior redução do uso do fogo na agricultura observada no país. Nos anos 1990, a Embrapa monitorava as queimadas, com o sistema orbital NOAA-AVHRR, em colaboração com o Inpe. Os dados e mapas ainda estão disponíveis. Até a década de 1990, a colheita manual da cana-de-açúcar era precedida pela queima da palha, para facilitar o trabalho dos cortadores. Essa queima fazia parte até dos compromissos dos usineiros com os cortadores em acordos trabalhistas. Entre junho e novembro de 1994, o sistema NOAA-AVHRR registrou 4.380 queimadas de grande porte em São Paulo, concentradas na região canavieira. Programas e acordos levaram à mecanização da colheita e dispensaram há um tempo o fogo e a mão de obra dos boias-frias. Em 2009, no mesmo período, o sistema de monitoramento por satélite registrou apenas 299 queimadas.
Em 2020, incêndios e queimadas mobilizaram a mídia nacional e internacional, com acusações ao Brasil por parte de organizações não governamentais, do presidente francês, de outros chefes de governos e até com fotos de girafas e cangurus queimados. Neste ano, alguns até tentaram uns sinais de fumaça, mas faltou lenha ou fogo. O apagão midiático parece resultar de uma verdade inconveniente: a redução das queimadas não interessa. Apenas seu aumento. Os desafios colocados pelo uso do fogo na agricultura também não interessam. Levar tecnologias, financiamentos e conhecimentos para os pequenos agricultores reduzirem o uso do fogo também não. Só interessaria o incremento para acusar e culpar A ou B, como no ano passado? Aqui e no exterior? Em 2021, ainda não houve uma reportagem para atribuir o mérito da redução das queimadas a A ou B. Nem aqui, nem no exterior. Cadê o crítico? O gato comeu. C´est la vie.
* o autor é engenheiro agrônomo e doutor em ecologia, Chefe Geral da Embrapa Territorial – Campinas – SP.
Publicado em https://revistaoeste.com/revista/edicao-81/cade-o-fogo-que-estava-aqui/#comment-119588