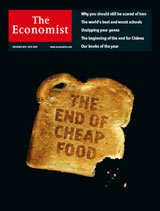|
| Poeira fertilizante do Saara todo ano passa por cima do Atlântico e sustenta a vida na Amazônia e no Caribe |
Amazônia é a maior floresta
tropical úmida da Terra. E o Saara é o maior e mais quente deserto do mundo.
Na aparência, nada de mais diverso e sem relação um com outro. Uma imensa selva
verde úmida no coração da América do Sul, e um infindável areal, composto de
poeira e pedra, onde sopram ventos ardentes no norte da África.
Porém, se, por ventura, os dois estivessem vitalmente unidos? Se o mais pleno
de vida dependesse do mais morto para sobreviver, quem ou o quê poderia ter
criado essa inter-relação?
Por certo, uma interdependência tão profunda foge à imaginação do homem e a
qualquer instrumentalização ou fabrico também humano.
Também fugiria às regras da teoria da evolução de Darwin, segundo o qual tudo o
que há procede de uma realidade pré-existente, e essa de outra, por uma série
intérmina e jamais demonstrada de mutações atribuíveis ao azar e à necessidade.
Há, porém, um fenômeno que envolve ventos e minérios sem vida e que sustenta a
vida vegetal e animal na maior floresta tropical úmida do planeta.
 |
| Amazônia: estonteante dependência do Saara criada por Deus |
Chegando no III milênio a ciência com
seus mais avançados instrumentos pode documentar e mensurar esse fenômeno
colossal.
Dito fenômeno une essas duas imensas realidades geográficas tão dissemelhantes
passando por cima de um oceano.
Pela primeira vez um satélite da NASA mensurou em três dimensões a quantidade
de poeira do Saara trazida pelos ventos por cima do Atlântico.
E calculou não só a poeira, mas também o fósforo que vem no meio dela: 22.000
toneladas de fertilizante puro, do qual a selva da Amazônia depende para
existir.
A equipe comparou o conteúdo de fósforo da poeira do Saara na depressão de
Bodélé com dados das estações científicas de Barbados, no Caribe, e de Miami,
nos EUA.
Os resultados do estudo foram publicados na Geophysical Research Letters, revista da American Geophysical Union,
segundo divulgou a NASA (vídeo embaixo).
O líder do trabalho foi Hongbin Yu, cientista da atmosfera da Universidade de
Maryland que trabalha no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt,
Maryland. Yu e sua equipe fizeram os cálculos com base em dados coletados pelo
satélite Calipso, da NASA, entre 2007 e 2013.
Yu e sua equipe estudaram a poeira que provém especialmente da Depressão de Bodélé,
no Chade. Trata-se de um antigo lago seco cujas rocas compostas por
micro-organismos mortos estão carregadas de fósforo.
Esse é um nutriente essencial para o crescimento das plantas e a vegetação
depende dele para florescer.
 |
| O estudo analisou especialmente a depressão de Bodélé de onde sai boa parte do fósforo fertilizador |
Os nutrientes são escassos no solo amazônico e alguns deles, como o fósforo, são lavados pelas chuvas. Sem os fosfatos (sais do fósforo), a floresta da Amazônia estaria condenada à morte.
Porém, segundo Yu, o fósforo que chega do Saara, estimado em 22.000 toneladas por ano, equivale aproximadamente à mesma quantidade levada pelas chuvas e pelas enchentes.
Esse fósforo é apenas 0,08% das 27,7 milhões de toneladas de poeira do Saara depositadas anualmente na Amazônia.
No total, os ventos do deserto africano levantam cada ano 182 milhões de toneladas de poeira. O volume encheria o volume de carga de 689.290 caminhões. O pó viaja 2.800 quilômetros sobre o Atlântico até cair na superfície arrastado pela chuva.
Perde-se uma parte pelo caminho. Chegando à costa do Brasil, ficam ainda no ar 132 milhões de toneladas. Por fim, 27,7 milhões de toneladas – capazes de encher 104.908 caminhões – caem sobre a superfície da bacia Amazônica. Outros 43 milhões de toneladas seguem para o Caribe.
É o maior transporte de poeira do planeta. Há importantes variações segundo os anos, dependendo dos ventos e de outros fatores.
Desta maneira o deserto morto sustenta a vida na exuberante floresta amazônica tropical e úmida. Sem o Saara a mata da Amazônia não existiria.
Vídeo: Amazônia: estonteante dependência do Saara criada por Deus
Quem desejar assistir o vídeo no Youtube (áudio em inglês), clique neste link: https://www.youtube.com/watch?v=ygulQJoIe2Y
 | |
| Quem teria imaginado algo tão extraordinário funcionando há milênios de anos como uma engrenagem supremamente sábia? |
Há certos fenômenos naturais que nos
obrigam a reconhecer um Criador de uma sabedoria e de um poder infinitos.
Isso apesar de uma intensa propaganda que chega ao absurdo de dizer que o
ecossistema do planeta depende decisivamente de nós.
Sem o homem saber, desde que o Saara e a Amazônia existem o pó fertilizante do
deserto africano chega na dose certa, mas colossal, todo ano, por cima do
Atlântico.
Quem tem a sabedoria para imaginar esse processo sustentador de uma floresta
como a amazônica da qual depende a Terra toda, a outros títulos?
Quem tem o poder para criar e depois garantir esses processos em sua
regularidade constante há milênios?
Sem dúvida a ciência presta um inestimável tributo com uma descoberta como esta
que postula a existência de um Deus criador e sustentador do céu e da terra.
* Escritor, jornalista, conferencista de política internacional, sócio do IPCO, webmaster de diversos blogs.
Publicado em https://ecologia-clima-aquecimento.blogspot.com/2024/10/amazonia-estonteante-dependencia-do.html
.